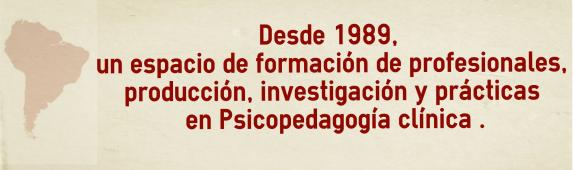Os materiais da autoria
OS MATERIAIS DA AUTORIA
Regina Orgler Sordi: Dra. em Educação UFRGS; Professora Adjunta do Instituto de Psicologia UFRGS; pesquisa na área: Sociedade do Conhecimento e Ecologia Social e Cognitiva no Mestrado em Psicologia Social UFRGS.
Porto Alegre. Brasil
Se cartografar é deixar-se afetar por forças, movimentos, direções, tendências, esta reflexão pretende desacelerar numa pergunta: quais são os materiais que formam a autoria de pensamento? Como vai sendo trabalhada essa argila que vai dando formas ao aprender, criando pensamentos, idéias? Não se trata de um perguntar ao outro para que me diga o que tenho que pensar; trata-se de perguntar junto a autores cujas reflexões têm vindo em auxílio da curiosidade e até de uma certa perplexidade: fala-se muito em análise de discurso, mas pouco se fala em autoria de pensamento.
Neste trabalho, parto da idéia de que a autoria tem a ver com a vontade de produzir efeitos. Está mais próxima ao trabalho imaginado de um oleiro, nas palavras de Cruz (1998), modelando umas caçarolas, umas vasilhas e que, em certo momento, interrompe seu trabalho, um instante antes de levar essas panelas ao fogo...E o que faz o oleiro nesta interrupção? Algo que até ali não havia feito em seu trabalho: toma a ponta de um instrumento e decide incluir umas marcas, um desenho em sua panela e continua aquele processo até o seu término. Que intervalo se abre nesta interrupção? A eficácia de um gesto de autoria, nos diz Cruz. A importância de incluir descontinuidades em processos que, de outra forma ficariam subsumidos a uma outra lógica, a da eficiência das continuidades, da falta de intervalos, de descanso, de pensamento. Para que o oleiro possa encontrar-se com sua autoria, precisa não somente do ato criativo – novas formas de produção - mas encontrar um sentido na própria obra: a possibilidade de que, a partir dali, essa panela seja portadora de sua marca, seus sinais, que fale para si de um outro modo, em sua produção. Precisa romper com o destino e inscrever-se nas condições de sua própria história. O movimento paradoxal da autoria é que, simultaneamente, o sujeito se encontra e é encontrado.
Autoria não tem a ver com o que já está feito, não é compreendida como um produto, mas como uma abertura para o sempre inacabado; fala mais de um devir, um modo de situar-se, uma ética que tem a ver com o desejo de produzir e com as possibilidades produtivas do outro. O escritor, a escritora, entrega sua obra ao outro, mas há uma diferença entre escrever e ser escritor/escritora. O escrever está para mim, o escritor/escritora é para o outro (Larios, 2000). A autoria se instala entre o escrever e seu produtor e no reconhecimento que possa fazer de si mesmo, a partir de encontrar-se com sua obra. Usufruir da autoria é desfrutar de seu processo, porque potencializa o autor , o que não significa o mesmo que ser proprietário – até porque, não parece haver uma unidade completa entre a obra e o autor. Esta última, tem vida própria... A palavra autor está mais relacionada com a responsabilidade, não no sentido de propriedade privada, mas ao que permite construir um espaço de pensamento. “Supõe confiar nas possibilidades de criar o que já está aí, poder fazer pensável a experiência vivida” (Fernández, 2001, p. 91).
A pergunta inicialmente formulada remete a uma busca dos materiais que formam a autoria. Penso que esta pergunta pode ser melhor compreendida ao tentar situar o lugar desde onde ela se gerou. Poderia dizer, no momento, que ela se gerou de várias ignorâncias. Trabalhando em Psicologia Escolar, abastecendo-me das teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, sentia que ainda assim, faltava um olhar específico sobre a aprendizagem que tratasse esse tema como um fenômeno humano complexo e não meramente instrumental. Acostumei-me a considerar, desde minha experiência como aluna do ensino fundamental e posteriormente, aluna universitária, mas também, a partir das teorias psicológicas estudadas, que o aprender era o resultado de... Nesta perspectiva, uma nota, uma medida, um olhar sobre a transmissão do conteúdo, o qual deveria ser devolvido numa avaliação, era sinônimo de uma boa ou uma má aprendizagem.
Se aprender era apenas aquilo, trabalhar naquele intervalo estreito conduzia a dois tipos de ignorância: 1. Quem apresentava baixos resultados escolares, era considerado um aluno-problema e, portanto, precisava ser derivado a uma atenção especial; 2. Responsabilizando-se ao aluno e não poucas vezes, sua família, perdia-se a oportunidade de incluir – professor e psicólogo escolar – num espaço de reflexão em que os três – professor, psicólogo e aluno – tinham um problema para resolver. Assim, uma primeira cegueira estabelecia-se: a de que o psicólogo era suficientemente onipotente para resolver a situação. Desta, advinha uma segunda cegueira: a de que o professor, experimentando um alívio ilusório ao encaminhar o problema para outro resolver, via desaparecer seu aluno e sentia-se, em verdade, frustrado e impotente em seu trabalho.
“Sabemos que tanto a impotência como a onipotência são duas formas opostas de um mesmo problema: não conseguir conectar-se com a ‘potência’. Potência como reconhecimento das próprias possibilidades, como autoria”(Fernández, 2001, p.127).
Deste choque em que um investia-se de plenos poderes e o outro, desinvestia-se absolutamente, o resultado final era muito desastroso: professores queixando-se dos psicólogos que não resolviam nada e psicólogos queixando-se que trabalhavam em torno das queixas dos professores e que não recebiam nenhum reconhecimento. E de onde vinha essa sensação de que nada se resolvia? A meu ver, de pressupostos pobres e limitados sobre a aprendizagem, concepções parciais, talvez as mais superficiais e menos produtivas. Aprendizagem era o produto, muito pouco discutia-se acerca de seu processo.
As teorias psicológicas mais consistentes, que nos auxiliavam – e seguem auxiliando – a fundamentar o campo da aprendizagem, curiosamente, não eram propriamente, teorias da aprendizagem. De um lado, a psicologia genética, uma teoria sobre a construção conhecimento. De outro, a psicanálise, uma teoria sobre a constituição do sujeito psíquico. E neste ponto, surgia uma terceira ignorância: quando aquele aluno que não aprendia em sala de aula era encaminhado para o psicólogo escolar, como abordar sua dificuldade? Para responder esta pergunta, inúmeros olhares se bifurcavam: ou explicava-se a dificuldade de aprendizagem como uma manifestação de conflitos emocionais, ou como detenção dos processos construtivos do conhecimento ou, o que era mais grave, como um defeito em alguma habilidade específica. Era como se várias disciplinas abrissem suas portas para observar o fenômeno para, logo, voltarem às suas casas e bastarem-se em suas explicações.
Foi então que Sara Paín, nos anos sessenta, ao tentar resolver os impasses teóricos e práticos sobre o campo da aprendizagem, enunciou que as teorias psicológicas – a psicanalítica e a psicologia genética – cindiam o sujeito em dois. Apresentou-nosmais duas ignorâncias sobre o aprender:
ausência de programação instintiva, a qual nos condena e nos abre as portas para o aprender;
a presença de duas instâncias psíquicas que se ignoram mutuamente: o consciente e o inconsciente. Por um lado, temos um sujeito epistêmico, que conhece. Por outro, temos um sujeito simbólico, que se desconhece. Para cada sujeito, desenvolveram-se teorias muito potentes, mas que nunca dialogaram entre si.
Felizmente, a ignorância pode ser transformada numa vivência muito produtiva, se a considerarmos em sua função positiva (Paín, 1999 ), aquela em que a falta de sentido, tanto consciente quanto inconsciente, nos força a realizar um trabalho de ligações que nunca se acaba.
O pensamento ativo nos força a realizar ligações. Estas ligações, por sua vez, nos impelem a fazer escolhas. Antes de escolher, tudo é possível, mas quando escolhemos, há uma decisão, um limite. Aqui aparece, novamente, o tema da responsabilidade que todo o pensar contém. Pensar é responsabilizar-se. E perguntamos, junto com Sara Paín: o que há de consciente naquilo que pensamos? De onde vêm estas escolhas, essas decisões de seguir por uma via e não por outra? Certamente, se o produto de nosso pensamento é consciente, se temos acesso a ele, seu processamento é, contudo, inconsciente. Não temos acesso imediato ao pensamento, não sabemos por que pensamos.
Começamos a entender que a aprendizagem é muito mais do que o resultado de alguma coisa. Ela é o fenômeno humano, por excelência, a máquina simultaneamente subjetiva e objetiva, consciente e inconsciente, que potencializa nosso pensamento e processos criativos. E, aqui, chegamos novamente ao tema da autoria de pensamento.
“Em nossas mãos está a aprendizagem da autoria de pensamento onde a inteligência, conhecendo seu alcance, aceita resignar ante o desejo de conhecer tudo e, conectando-se com a função positiva da ignorância, pode aceitar conhecer parcialidades, mas assumindo-se como co-autora, junto com o desejo, com a história própria e do mundo que habita esse sujeito” (Fernández, 2001, 90).
Foi necessário percorrer um caminho diferente ao da Psicologia, para encontrar-me com a riqueza das novas concepções sobre o aprender. O novo caminho apontava não mais para as estradas disciplinares construídas na Modernidade, mas para as fendas que estas estradas deixavam repletas de perguntas sem responder.
Assim, no campo da aprendizagem, essas gretas denunciavam que nem os problemas orgânicos, nem os problemas emocionais, nem os problemas de QI, nem os processos construtivos de pensamento, por si sós, respondiam pelos fracassos ou pelos sucessos no aprender. Era necessário situar-se frente a um novo posicionamento.
Ainda hoje, a “indisciplinada” Psicopedagogia Clínica, campo teórico que emerge das fendas deixadas pelas teorias relacionadas à aprendizagem, é muitas vezes definida como sendo um mero somatório de duas teorias fortemente constituídas– epistemologia genética e psicanálise. Entretanto, ao definir-se como uma reflexão e uma prática sobre a abertura de espaços objetivos e subjetivos de construção de autoria de pensamento (Fernández, 1987), inaugura um posicionamento, um modo de situar-se frente ao aprender com uma originalidade própria.
De que materiais, então, é feita a autoria de pensamento?
Diria, numa abordagem ainda muito inicial, que o barro e a água da autoria partem das noções de “entre”, cada vez menos entendida como uma preposição e muito mais como um conceito e da noção de “diferença”.
“Entre” em autoria
Cruz (1999) lança uma pergunta instigante: “Como se aprende aquilo que não se pode ensinar?” (comunicação oral). Há coisas que não se pode ensinar, mas que se aprende neste intervalo, nesta distância, nesta incongruência entre um e outro ou nesta incongruência consigo mesmo. Poderíamos pensar, já distantes da noção de aprendizagem como resultado de... que aquilo que se ensina não corresponde ao que o outro aprende. Não há uma correspondência ou correlação, mas sim, um “entre” o que se ensina e o outro aprende, espaço de transformação, em que algo novo se gera. “Entre” não deve ser confundido, então, com passagem ou com ponte. Christlieb fala em uma nova materialidade,
“uma terceira realidade, que não está dentro, mas que também não está fora, mas entre, que encarna numa terceira natureza, inquantificável e impecavelmente real” (p. 51).
Acompanhando o pensamento deste autor, a noção de “entre” deve ser substantivada, sujeito em si mesma, que permite falar, não de uma reunião de experiências ou coincidência que está entre dois significados, mas do significado que está entre dois e todos.
Nas origens do desenvolvimento do aparelho psíquico, Winnicott descreveu, desde a psicanálise, um fenômeno transicional, um “entre” estruturante da vida de relação e determinante das capacidades humanas de brincar, pensar e criar. Este autor conceituou uma fase na qual o ego do bebê reage ao mundo como se ele fosse parte de si mesmo e separado, ao mesmo tempo. Enfatiza que o bebê e sua mãe nunca questionam tal distinção. Essa ilusão é mantida: a de que o bebê controla e cria o mundo, um mundo que satisfaz suas necessidades na medida em que elas são demandadas. A criação de um objeto que seja tanto interno quanto externo é referido como a criatividade psíquica primária. De acordo com Winnicott, o ego do bebê adquire a habilidade para criar um objeto devido ao bom cuidado materno, o que significa que a existência da mãe, por um período de tempo, está referida a esta preocupação maternal primária. É a este objeto auto-criado que Winnicott chama de objeto transicional e a este espaço, entre o bebê e a mãe, de espaço transicional e que é representativo de uma fase do desenvolvimento onde o fora e o dentro não são distinguíveis porque a mãe ajuda a manter a ilusão de que tal distinção não existe. O fenômeno transicional não fala então de uma correlação entre a mãe e o bebê, mas de uma zona onde pode acontecer a diferenciação, pode construir-se a individuação do sujeito, o trânsito entre o eu e o não-eu. Não se trata apenas de uma aquisição do desenvolvimento, mas de uma experiência que se expande para a vida. É nesse lugar onde nascem as possibilidades criativas e de confiança, onde se pode jogar e é o mesmo espaço onde se pode aprender (Fernández, 1989).
Como a criatividade surge da construção do espaço transicional, o qual podemos chamar de espaço de jogar?
”Falo de uma ficha, logo digo que esta ficha é um jogador, logo falo de jogador, logo, do jornal esportivo que nomeia ao jogador, logo da altura e características físicas do jogador. E relato histórias pessoais dos jogadores como se tratassem realmente de pessoas.
Então, uma ficha verde é um jogador com camiseta verde. Um botão é uma bola de futebol.
Mas então, tenho que acreditar que o que vejo é um jogador e não uma ficha.
Para apaixonar-me pelo jogo, tenho que assassinar a palavra ficha e atravessá-la com histórias. Se digo “ficha”, não jogo, perco minha capacidade imaginativa, me concretizo. Dar-lhe vida. Isso é o que apaixona. Isso é o terapêutico do processo lúdico. Da história futebolística à criação de novas histórias possíveis compartilhadas pelo grupo que pratica o jogo. O jogo nos afeta a todos, os adolescentes. Nos sentimos ‘afetados’ pelo jogo. Diz Brasi: ‘ Há uma cadeia de idéias que começa com o problema dos afetos, depois segue com o devir e poderíamos dizer que termina com a problemática da criatividade.’” (Pavlovsky, 1996, pp. 39,40).
Como diz Pavlovsky, a capacidade imaginativa durante a experiência do jogo é a “cozinha” do processo criativo. É aí que entra o trabalho de autoria: “quando almejamos fazer com que algo do desejável seja, primeiro, possível e, logo, provável. O pensamento não trabalha apenas com as possibilidades; trabalha também com a decisão” (Fernández, 2001, p. 90).
A autoria, então, não tem a ver apenas com o crer/criar o jogo, mas está igualmente ativa no momento da decisão de usá-lo, momento de sua apropriação. A apropriação significa reconhecer-se em sua produção.
“Mas o que motivou o nosso ‘agenciamento’ não foi só o jogo em si, mas a capacidade de construir histórias sobre os jogadores. O que nos apaixonava era a capacidade maquínica de imaginar para além do concreto do jogo. O jogo durava 20 minutos cronológicos em um espaço determinado de 1,50m X 1m ( a cancha). Mas este espaço-tempo, era atravessado por histórias inventadas pelo grupo que criavam outras unidades de espaço-tempo. Fugíamos das regras do jogo concreto e seus contornos e fabricávamos e suscitávamos pequenos acontecimentos”(Pavlovsky, 1996, p. 41).
As crianças do jogo de Pavlovsky, deslizando-se num espaço e num tempo transicionais, decidiam, responsabilizavam-se por aquilo que criavam. Neste espaço “entre”, operava o conhecimento/afeto, a matéria prima entre os jogadores e o jogo.
Rodulfo (1997), analisando a cena da amamentação como a escritura de um jogo, nos diz que, no curso da mamada, o bebê repara um botão da blusa da mãe, concentra-se e começa a trabalhar nele. Como no jogo dos adolescentes, o ser do botão fica em suspenso, altera-se sua existência, essência e função como botão. “Brincar significa usar a coisa para o que não é...” (Rodulfo, p.14). A hipótese básica do autor é a de que o jogo/botão não é um objeto entre outros, mais um primeiro objeto no qual o bebê inscreve/escreve um certo entre com o outro. É um ato que só a criança pode fazer. E pensar que toda classe de objetos, incluindo o conhecimento, deriva destes primeiros trabalhos/entre...
Tradicionalmente, a psicanálise tem pensado que a criança entra em relação com a mãe e, a partir daí, pode jogar com os outros e com as outras coisas. No curso do pensamento aqui introduzido, o enfoque rota. Muda o seu centro: o bebê come enquanto joga. Se ele só come, algo está mal.
A partir da cena descrita acima, podemos pensar que a autoria de pensamento significa jogar com as idéias, “pôr entre parênteses o ser da coisa”, estar nesse entre, reconhecendo a idéia que vem do outro e simultaneamente, reconhecendo algo próprio ali, nos interstícios entre o desconhecimento, o conhecimento e o desejo de conhecer.
Para que isto ocorra, é necessário dar entrada às diferenças...
“Diferenças” em autoria
Espaço e tempo transicionais são a matéria prima para que o sujeito se singularize, trabalhe sua diferença.
Costumamos pensar que autorizar-se é diferenciar-se:
“Para construir um pensamento, principalmente, necessitamos diferenciar-nos de... Então, para que a criança possa dizer ‘não gosto que meu pai me ofenda’ tem que construir uma idéia, dar-lhe um nome, ela precisa diferenciar-se daquilo, porque senão, ‘eu sou má, me comportei mal e papai me respondeu’, o que não é o mesmo” (Fernández, 1998, p. 47).
Da cena transicional descrita por Winnicott, emerge a possibilidade de diferenciar-se do outro. Curiosamente, só nos diferenciamos gradativamente na medida em que experimentamos a simbiose com o outro. Muito cedo, entretanto, a mãe vai “permitindo” a entrada do pai ( representado aqui tanto pela figura concreta do pai, quanto pelo chamamento da cultura), processo que produz um afastamento necessário da mãe em relação ao bebê e que introduz no mesmo a necessidade de ir em busca de outros objetos. Do ponto de vista da aprendizagem, é necessário compreendermos que a apresentação ao mundo dos objetos, precisa acontecer a partir deste vínculo, como se os olhos da mãe, apresentassem aos olhos do bebê, um mobili, por exemplo, e agora, ambos os olhares se entrecruzem com o objeto (Paín,1987 ). É da força dessa des-ilusão que cria-se o espaço de autoria. Ensinar é precisamente desejar que o outro aprenda... mas que aprenda a partir do que se mostra e não o que se mostra. Não se trata, então, de que o bebê “apreende” os objetos porque estejam ao seu alcance, mas porque estão investidos deste amor, deste desejo de que conheça. A aprendizagem não acontece por fora de laços de amor e de desejo. É precisamente porque existe o amor, que desejamos parecer-nos com o outro, ao mesmo tempo em que desejamos diferenciar-nos dele:
“Quem ensina se oferece como modelo identificatório. Não se aprende por imitação, querendo fazer o mesmo que faz o outro. Aprende-se querendo se parecer com quem nos ama e amamos. Precisamos querer parecer-nos ao outro, e que esse outro nos aceite como semelhantes, para poder desejar diferenciar-nos dele, com menos culpa, ou melhor ainda, podendo elaborar a culpa por diferenciar-nos” (Fernández, 2001, p. 40).
Uma das formas de incorporar a diferença, trabalhar com ela, é precisamente, poder nomeá-la. E esta operação não tem a ver com oposição ou com anulação. Não poucas vezes, instalando-nos numa lógica binária, corremos o risco de reduzir a diferença e, deste modo, opô-la. Não se trata, apenas, de um funcionamento binário, rígido; além disso, agrega-se que somente um dos polos está marcado. É nesta segunda torção em que acaba por se arruinar a diferença. Não poucas vezes, deixamos de usufruir da riqueza mesma do pensamento que é, por definição, uma operação de corte, uma descontinuidade, para considerar tudo o que não está num dos polos como “o” diferente e esse “diferente”, como “o” excluído. Se pudéssemos sair dessa lógica binária e nos aventurássemos a pensar “as diferenças” talvez pudéssemos estar mais próximos a um modo de posicionar-nos, dando entrada à originalidade, ao devir, ao múltiplo:
“Tudo é multiplicidade desde o começo (...) Fugíamos do espaço da cancha. Desterritorializávamos o campo e inventávamos outros territórios. Insisto em que o que nos manteve agenciados ao jogo durante anos foi a criação de outros espaços-tempos que rompiam o contorno das regras do jogo. Cada partida era um encontro com essas histórias que adquiriam um nível de ‘crença’ grupal. Histórias compartilhadas. A criação, no mesmo ‘evento’ da partida, de outros acontecimentos que envolviam o clima de mistério que nos transbordava”(Pavlovsky, 1996, p. 41).
É sempre a partir de uma linha de fuga de onde surgem os pequenos acontecimentos de que nos fala Pavlovsky. Entendo as linhas de fuga como mais um espaço de onde devém a diferença.
São estes espaços-tempos por onde advém a autoria de pensamento com tudo o que pode pôr em jogo da capacidade criativa. Habitando estes espaços de pensamento, Deleuze nos dirá que o aprender instala-se como uma segunda potência, que nasce na sensibilidade, não propriamente na cognição.
“Nunca se sabe de antemão como alguém vai aprender – que amores tornam alguém bom em Latim, por meio de que encontros se é filósofo, em que dicionários se aprende a pensar. Os limites das faculdades se encaixam uns nos outros sob a forma quebrada daquilo que traz e transmite a diferença”( Deleuze, 1988, p. 270).
Este momento-limite, em que o sujeito é captado por um sentimento de estranheza, momento de diferir de si mesmo frente ao que até agora tem sido, é o momento da produção de sentidos, momento por excelência, da invenção (Kastrup, 2000).
Aprender passa a ser entendido como a experiência de problematização, de constranger-se pela realidade de ficar repentimamente des-locado. Pura diferença, encontro não perfeito entre o polo do sujeito e o polo do objeto, não explicados nem pela subjetividade, nem pela objetividade, mas um encontro a espera de uma interpretação. Trata-se aí, pensando junto com Deleuze e Kastrup, de uma aprendizagem que nasce no campo do sensível, dos signos da matéria que precisam ser decifrados. Será suficiente que um signo do objeto nos afete e nos sentiremos constrangidos a interpretá-lo. Esse aroma... de onde vem, de onde o conheço? Neste momento, nossa cognição é chamada para trabalhar, momento segundo, tentativa de captura definitiva da diferença.
“O signo aparece, temos certeza de que ele nos atinge de fora, mas não sabemos ainda qual o seu sentido. Possui a força de uma interrogação que nos força a pensar, de um problema que exige solução. Sua força de problematização impõe-se como inevitável”(Kastrup, 2000, p. 6).
Aproximamo-nos de um conceito de autoria que está bem mais próximo ao trabalho do brincar e da arte do que do trabalho alienante. É difícil encontrar momentos em que o pensamento científico possa corporificar em arte. O fenômeno da aprendizagem é talvez um dos lugares privilegiados onde essa articulação possa melhor ser realizada.
Cartografar a autoria de pensamento implica situar-se no paradigma estético
Precisamente porque a aprendizagem começa quando estranhamos e problematizamos, ela requer autoria, o processo e o ato de produção de sentidos e de reconhecimento de si mesmo como protagonista e participante de tal produção.
Durante algum tempo, Paín revolucionou as idéias sobre as estruturas do pensamento, introduzindo, para além da dimensão objetiva - lógica, conceitual - uma dimensão subjetiva – dramática, desejante. Mais recentemente, a autora introduziu uma terceira dimensão, a elaboração estética, sem a qual, qualquer teoria de transmissão de conhecimento ficaria incompleta.
O tema do estético está para aquém do conceitual. Assim como nos propõe Deleuze (1988), a estética baseia-se na sensibilidade, coagula-se numa ignorância que se orienta para uma manifestação enigmática. Estamos no terreno dos signos, puros sensíveis: formas, cheiros, cores, atmosfera visual carregada de sons, sentimentos, transvasamento, riqueza de fundo. E de tudo isso, o momento estético é despersonalizante, ao mesmo tempo que imprescindível. Ele é o detonador da cognição, do momento segundo, para deixar de ser ignorância e ser reabsorvido numa lógica capaz de contê-lo. O momento estético é gratuito, fortuito, está sempre em excesso, sempre além do que se pede. Traduz-se numa forte ressonância emotiva, uma emoção que se dá pela perda de compenetração. Como diz Christlieb (1994), é um momento de encantamento (mas pode ser também, de um pavor absoluto), em que a realidade provoca o infinito para que lhe responda.
“Os artistas, os místicos, os poetas e as crianças o fazem por profissão; os enamorados, os desesperados e os adolescentes, por urgência; o resto dos cidadãos mais ocupados em seus afazeres, também o fazem, mas por momentos. (...) O encantamento é aquela fase da realidade onde o cientista encontra de improviso a resposta a suas dúvidas, se faz e luz e o angustiado adquire lucidez, tudo está claro, o poeta redige o verso que faltava para transcrever o cosmos, tudo tem sentido e o místico saúda Deus, a dona de casa se detém pasmada diante da angélica beleza de sua cozinha, o dia é perfeito e a criança cria outra vez o mundo dentro de seu jogo, (...), Einstein curva o tempo, Santa Teresa entra no céu, Arquimedes grita eureka, a Cervantes lhe ocorre o nome Don Quixote, a gente descobre o fio negro e inventa a água tíbia e todos juntos topam com a verdade total, completa, ultimada” (1994, p. 30).
O momento estético é o da estupefação, o descobrimento que se dá em estado de surpresa e cuja emoção, não se recorda, é sempre uma ressonância no presente. O momento estético não responde a nenhum desejo, pois a surpresa vem do que não estava desejado, é algo que vem da abertura. Desde a estética, o mundo revela-se para o sujeito, força sua interpretação, obriga uma passagem do excesso ao conhecimento.
“Quando o sujeito fica tonto, se excede, há que dar-lhe uma palmadinha para que volte de sua fascinação, porque corre o risco de ficar ali; quando o sonho se excede em seus excessos, o sonhador desperta porque corre o perigo de ficar perdido no sonho. (...) Com efeito, quando se toca o limite da realidade, o conhecimento dá um passo atrás, porque sabe que um só passo adiante implica transpor o ponto de fuga por onde se escapa todo o conhecimento, o ponto onde um milímetro depois, desaparece toda a realidade, ali onde começa o infinito de onde não se regressa: os clássicos gênios loucos são o protótipo do passinho a mais” (Christlieb, 1994, p. 31).
O momento estético pode ser muito freqüente, mas não pode durar muito mais do que um par de instantes, porque por uma parte, carece de ancoragens empíricas para manter-se, já que não se pode descrever, nem imaginar e, por outra parte, para dar-se conta que, em verdade, houve tal momento, há que tomar distância, recordá-lo e, então, descrevê-lo e imaginá-lo, saber que foi correto, da mesma maneira como se faz com os sonhos, que sabemos que existem, porque deles despertamos.
Desde a criação lingüística, Bakhtin (1979) analisa que o primeiro momento da atividade estética é o excedente da visão, a sobra de conhecimento, uma extra-posição concreta de si frente ao mundo. Mas, a atividade estética propriamente dita começa quando regressamos para nós mesmos e a nosso lugar fora do outro, quando estruturamos e concluímos o material vivencial. Em uma obra verbal, nos diz o autor, há que levar em conta os momentos de vivência fusional, o “sobrante” de visão e os momentos de conclusão, que não se sucedem cronologicamente, mas que, em uma vivência real, se entretecem e se fusionam. Cada palavra compreende ambos momentos e leva a uma dupla função: dirige a vivência e a conclui, ainda que possa prevelecer um e outro momento.
Pensamos junto a todos estes autores, que a autoria de pensamento nos fala deste posicionamento frente ao novo que é, num primeiro momento, da ordem do sensível, captura dos excessos – que produzem dor, prazer, comoção, o sublime – num corpo que se abre para o mundo, mas que logo, retorna e necessita transformar essa realidade e a si mesmo . Todavia, este retorno necessário de que nos falam Paín, Deleuze, Christlieb, Bakhtin, Fernández, abertura para a criatividade, pode ter um caráter defensivo e, neste caso, nada de novo se produzir e o sujeito, ao não poder reconhecê-lo, abolir as diferenças. Outra atitude defensiva (Fernández, 2001) é não poder encontrar nada conhecido naquele novo a conhecer e, neste caso, abolir também o gesto e a responsabilidade da autoria.
Aprendendo a concluir...
... para poder compreender
Há um tempo para falar, escutar, escrever
Um tempo para concluir
Um tempo para compreender – só que o tempo para compreender é sempre posterior ao de concluir...
Jorge Gonçalves da Cruz
Referências Bibliográficas:
BAJTÍN, M. – Estética de la Creación Verbal. Madrid, Siglo XXI, 1979.
CHRISTLIEB, P. F. – Psicologia Social, Intersubjetividad y Psicologia Coletiva. Universidad Autonoma de Mexico (mimeo).
- Logica Epistêmica de la Invención de la Realidad. IN: MONTERO, M. Conocimiento, Realidad y Ideologia. AVEPSO, Caracas, 1994.
CRUZ, J. G. – El vacío, ausencia de estupidez en la inteligencia artificial. IN: Revista Epsiba. Buenos Aires, n. 7, março, 1998.
DELEUZE, J. - Diferença e Repetição. Rio de Janeiro, Graal, 1998.
FERNÁNDEZ, A. – La Inteligencia Atrapada. Buenos Aires, Nueva Visión, 1987.
- O Saber em Jogo. Porto Alegre, Artmed., 2001.
- Os Idiomas do Aprendente. Porto Alegre, Artmed, 2001
KASTRUP, V. – Aprendizagem, Arte e Invenção (texto), 2001.
PAÍN, S. – Subjetividade e Objetividade. São Paulo, Cevec, 1987.
– A Função da Ignorância. Porto Alegre, Artmed, 1999.
– A Estrutura Estética do Pensamento. Revista Epsiba. Buenos Aires, n. 8, out/1998.
PAVLOVSKY, E.; KESSELMAN, H & DE BRASI, J.C. – Escenas Multiplicidad- Estética e Micropolíticas. Buenos Aires, Búsqueda, 1996.
RODULFO, R. – La constituición del juguete como protoescritura, Revista Epsiba. Buenos Aires, n.4, março, 1997.
WINNICOTT, D. – O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, Imago, 1975.
INSCRIPCIÓN ABIERTA